Carlos Skliar
Há muito tempo, venho sustentando que a educação é uma forma de conversação – e de relação – do todo particular, para além de qualquer outra interpretação conceitual ou disciplinar. Mas não qualquer conversação, nem qualquer relação.
Trata-se de uma conversação a propósito do que fazer com o mundo, com este mundo, não apenas com o daqui e agora, o que está a nossa frente, o de cada um, a pequena porção de mundo que nos cabe viver e pensar, senão do mundo contemporâneo, desse mundo que se faz presente – proveniente de qualquer ponto e dimensão do tempo – e nos preocupa e ocupa, nos comove, nos desconcerta.
A educação é uma filiação com o tempo do mundo, sim, e se dissemina em territórios singulares através de corpos distintos, vozes em dissenso, modos de pensar, perceber e falar diferentes.
Acaso pode haver “educação” sem uma conversa dessa natureza? O que restaria do educativo se conversássemos somente sobre o novo, sobre o mais recente e inovador, apenas sobre o futuro pré-construído ou unicamente sobre nós mesmos, de um modo mesquinho e com nossas pouquíssimas palavras? E o que seria do mundo se o relatássemos exclusivamente com uma linguagem vazia, sem ninguém dentro e sem pluralidade?

Por isso mesmo a linguagem do educar é ou quer ser narrativa. Porque sugere uma conversação sobre a relação intensa entre o mundo – como travessia em direção à exterioridade – e as próprias vidas, tentando que não permaneçamos somente entre uns poucos falando sempre o mesmo, repetindo e repartindo desigualdades, anunciando emancipação e provocando humilhações.
Como se o educar versasse sobre uma conversação em torno da relação entre o mundo e as vidas, feita com nossas próprias palavras, afetando-nos e assim poder escutar outras interpretações da existência, o surgimento de outras formas de vida, a enunciação de outras palavras, enfim, a presença da multiplicidade.
Eis aqui uma chave sensível e essencial que provém do gesto de educar: escutar e poder contar nossas histórias, quaisquer que sejam elas, com as palavras que sejam, porém nossas, para dar lugar à alteridade. E essa alteridade só pode vir e viver sob certa forma de conversação, que nada tem a ver com a hipocrisia nem com a arrogância do dar a voz aos que acreditamos que não a têm.
Essa alteridade provém de receber as verdades que outros nos oferecem; de uma linguagem amorosa, sim, mas não de um amor banal, senão distinto: um amor que, nascido na relação com o outro, a partir do outro, se estende mais além e busca desesperadamente que o mundo também se torne mais amoroso – ou justo, ou igualitário, ou inclusivo como bem diriam outros.
Lembremos aqui um fragmento de Hannah Arendt, no livro Entre o passado e o futuro (2003), no qual a filósofa se pergunta se o educar não teria a ver com certa forma de amar o mundo o suficiente para não deixar que se acabe; e se o educar não teria a ver com certa forma de amar aos demais o suficiente para não os abandonar à sua própria sorte, ao seu próprio destino em aparência imutável.
Não sabemos muito bem o que pode significar “amar o suficiente” – suponhamos que cada um, cada uma, bem ou mal o saberá – mas, sim, sabemos o quanto esse duplo sentido do amor devolve a educação a isso que poderia ser chamado como: “a pátria dos afetos”.
A expressão “pátria dos afetos” conduz a uma dupla leitura. Por um lado, trata-se de inscrever o educar próximo às relações essenciais da vida: a amizade, o amor, a fraternidade, a hospitalidade. Por outro lado, procede do fato de se sentir afetado pelo mundo, afetado pelos demais para, simplesmente, deixar que sejam sempre como são, “em sua própria natureza”, “com os seus próprios recursos”.
No educar há algo de contrariedade, de não aceitar sem mais essa suposta ordem natural. Ainda mais, inclusive: no educar há algo de oposição à “ordem natural das coisas”. Um menino, uma menina, um jovem, não têm um destino inevitável e imutável, e o mundo e suas vidas não deveriam ficar reduzidas a experiências delimitadas ou a interdições irracionais.
Da minha primeira formação, lembro-me daquelas matérias que falavam dos “casos da educação especial” e que se reduziam a uma fórmula tão inapelável quanto trágica: tal deficiência, tais impossibilidades, tais destinos traçados de antemão.
Quanto verdadeiramente mudou essa sorte de caminho inexpugnável? O que pode pensar a educação se seu pensamento se dirige, ao mesmo tempo, ao indivíduo, à comunidade, ao Estado, à nação, ao projeto curricular, às didáticas, às avaliações, à singularidade, à pluralidade, ao ensino, à aprendizagem, às novas tecnologias, à política e ao político, à normalidade e à alteridade, à brincadeira, ao trabalho, ao conhecimento, à informação, à experiência, ao saber, à infância, à juventude, ao tempo, ao espaço, à diversidade, às diferenças, à igualdade, ao público e ao privado? Há algum pensamento que possa pensar tudo isso ao mesmo tempo, com a necessidade, ademais, de esboçar uma cotidianidade expressa em encontros e desencontros, presenças e ausências, famílias, biografias e histórias distintas? E em que linguagem seria possível fazê-lo? Em que linguagem conversar sobre tudo isso?
Não há – e não sei se deveria haver – uma linguagem da educação, para a educação. Estão disponíveis, isso sim, gêneros discursivos e, dependendo deles, haverá uma forma de determinar que tipo de conversação teremos: se técnica, se disciplinar, se acadêmica, se jurídica, se moralizante, se economicista, se sociológica, se politicista, se científica, se filosófica, etecetera. Mas, se a educação tem a ver com passar o mundo aos novos para que façam algo diferente com ele, esperando que seja cada vez melhor ou outra coisa em relação ao que fizemos até agora, a opção narrativa da linguagem que parece surgir é aquela do gênero ético.
“Ética” pode significar muitas coisas, eu sei, e eu tenho feito as minhas escolhas: uma ótica do reconhecimento do outro, uma acústica do escutar suas histórias, a sensibilidade ao frágil, a procura do bem comum, as respostas singulares.
O que pode a educação, o que podem as escolas públicas frente à voragem desses tempos nos quais ainda existe a tensão ou, melhor dito, a contradição entre a experiência emancipatória e a exigência da adaptação e do rendimento? Quiçá a pergunta esteja mal formulada, mas nela se reflete um certo mal-estar com o que se nomeia a educação atual e a vida cotidiana das escolas, um inapreensível desassossego pelo que fazer, como fazê-lo, quando a realidade – sempre violenta, sempre mesquinha – se derrama por todas as brechas e nos dói e padecemos e queremos mudar o rumo do mundo e da vida.
Depois de tudo, viemos ou chegamos a essa paixão do educar como herdeiros daquele duplo e insolúvel enigma que nos deixou Hannah Arendt, já comentado antes e sobre o qual retorno agora, para sublinhá-lo uma vez mais: o quão tem a ver a educação com o amor pelo mundo, de tal modo que educamos para que o mundo perdure para além de nós mesmos? E o quão tem a ver a educação com o amor pelos demais, a tal ponto que educamos para que esses “demais”, esses outros, não fiquem reféns dos seus próprios recursos?
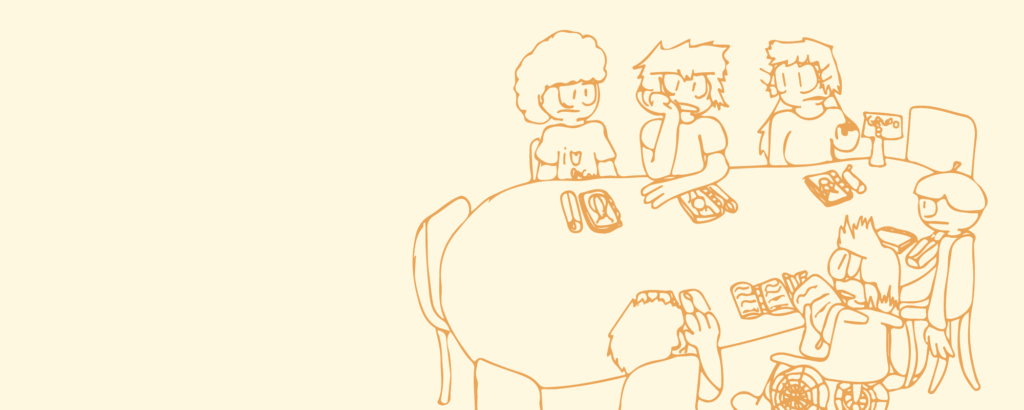
Tenho a sensação – mais ainda –, a certeza de que são esses interrogantes que movem a prática diária educativa e que dão, além disso, entidade e sentido aos discursos pedagógicos. Trata-se de substantivos indivisíveis – indivíduo, corpo, linguagem, afeto, relação, leitura, escrita, brincadeira, pensamento, percepção, entre tantos outros – que não podem ser subtraídos da comunidade nem do sujeito singular.
Para dizê-lo de outro modo: habitar as instituições educativas deveria ser uma questão de hospitalidade e não uma fórmula jurídica ou técnica. Dito isto, toda a “ordem natural das coisas” se subverte e algo, senão tudo pode ser pensado, reconstruído.
No entanto, não é possível, por acaso, educar-se sem mais, ou seja, sem eufemismos, de frente, cara a cara, transmitindo o mundo – para que não se acabe – de uns para outros – outros que não podem ser abandonados à sua própria sorte? Não se pode educar sem outro sentido que o de oferecer múltiplas vidas à vida singular?
Quero dizer: um educador/educadora deveria ser capaz, capaz em seu desejo, de ensinar a todos, de mediar com a palavra dirigida a qualquer um, de tornar partícipe desse ensino a cada um e a cada uma. Então, por que tanta necessidade de dispositivos, de didáticas, de palavras estrangeiras a esse primeiro ato de reconhecimento?
Creio que a resposta está na palavra “descuido”, contrária a “cuidado”, seu oposto. Não um único descuido: um descuido múltiplo. Por exemplo: o descuido de não ter advertido que a igualdade vem primeiro, que a igualdade é um gesto inicial, o ponto de partida sem o qual a educação não pode se livrar de sua roupagem de promessa vazia ou de um discurso propedêutico assente sobre inúmeras desigualdades que vão se amontoando sobre os ombros daquelas e daqueles considerados, injustamente, como “distintos”, “diversos” ou “diferentes”.
Ou, por exemplo: o descuido resultante de opor igualdade e diferença, deixando para essa última palavra uma conotação de negatividade que, como fatal desenlace, ninguém poderá se livrar, como se se tratasse de um lastro acoplado ao seu corpo e à sua biografia. Como se a igualdade impedisse, rechaçasse ou negasse a diferença e fizesse desta um estorvo, um obstáculo, o impedimento posto sobre outro cujo “malefício” impede educar em paz.
Ou, por último: o descuido da singularidade, isto é, o fato de que não compreender que, ainda que a igualdade venha em primeiro lugar, seria ingênuo não pensar e sentir que os efeitos educativos são sempre singulares, afetam a cada uma, a cada um, de uma maneira única e configuram, assim, o cenário do novo, do porvir, da diferença irredutível. Este deveria ser o sentido do gesto-ato de educar: receber o outro, sem questões, sem perguntas, sem suspeitas e, sobretudo, sem julgar, para travar uma conversação a propósito do que faremos com o mundo e o que faremos com nossas vidas.

