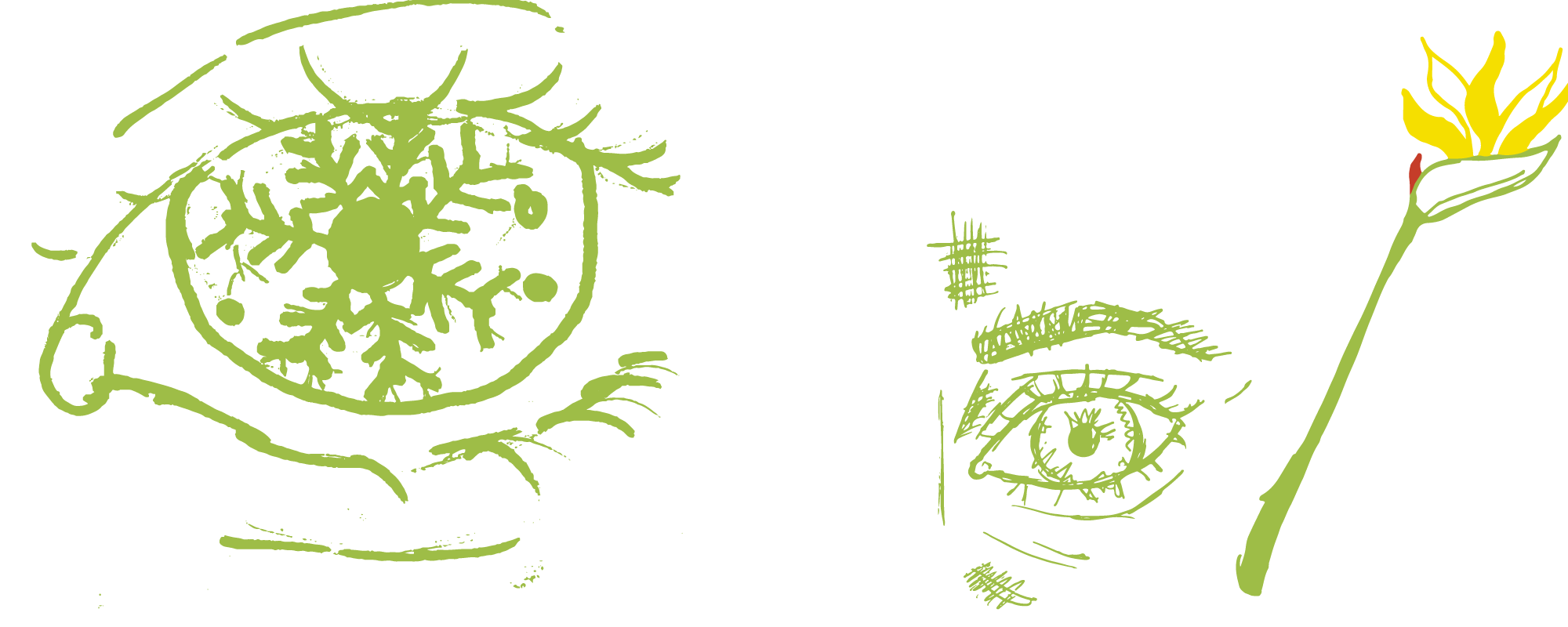Alex Niche Teixeira*
A esta altura da minha vivência como pai no Colégio João XXIII, posso me considerar um integrante antigo e com certa experiência. Tendo me aproximado das questões de governança do colégio, especialmente a partir de
2018 quando alguns eventos chacoalharam as instâncias internas (e o Brasil como um todo), passei a frequentar também as reuniões do Conselho Deliberante, primeiro esporadicamente como integrante da comunidade e, mais recentemente, de forma sistemática como Conselheiro eleito. Tendo sido frequente nas reuniões, atividades e discussões sobre as questões e os desafios para a promoção da aprendizagem a nossos filhos e filhas propostas pelo corpo pedagógico, posso dizer que conheço um tanto de perto também esta que é a dimensão principal de qualquer colégio.
Quando me perguntam “como é, como funcionam as coisas lá no João?”, eu costumo dar uma resposta que deixa o interlocutor um pouco atordoado: é um colégio cuja mantenedora é uma fundação financiada e administrada por pais, mães e responsáveis – auxiliados por profissionais -, submetidos a um conselho deliberante formado por outros pais, mães e responsáveis, mais membros do corpo docente e discente, todos eleitos de tempos em tempos entre seus pares para garantir a autonomia e o bom regime didático por parte da direção pedagógica que também é eleita de tempos em tempos por seus pares… Sim, extenso. E complexo. Especialmente para uma entidade que, para quem olha de fora, e para todos efeitos, é uma escola particular. De todo modo, o envolvimento com as ações da fundação mantenedora e a proximidade com os encaminhamentos do âmbito pedagógico me permitiram observar as muitas transformações vividas nos últimos 10 anos no colégio, várias delas vinculáveis às mudanças que as próprias sociedades brasileira e mundial também vêm passando, incluindo-se aí os avanços, retrocessos, ampliações de direitos, reações de grupos conservadores entre outros ingredientes.
Nesse percurso junto aos diferentes espaços dessa instituição escolar nada convencional uma coisa que sempre me deixou com um pulga atrás da orelha é a super valorização dos poderes e salvaguardas da “comunidade” embutida na ideia de “escola comunitária”. A cada troca e debates em reuniões com a área pedagógica ou no âmbito do conselho deliberante, a sociologia que em mim habita sempre trazia a lembrança de que uma comunidade pode não ser necessariamente garantidora de vários valores posicionamentos e condições, especialmente os disruptivos, os que quebram padrões, tais como as demandas éticas urgentes que a sociedade atual nos coloca em termos de reparação histórica quanto à questão racial, à equidade de gênero, ao respeito à diversidade sexual, à atenção às neurodivergências entre outras, todas legítimas e, por vezes, sobrepostas.
Ocorre que “comunidade” mobiliza ocultamente a noção de “comum unidade” de valores. Algo de certo modo anacrônico, se pensarmos o desenvolvimento das modernas sociedades ocidentais. Dependendo dos usos instrumentais pode ser até perigosa: não à toa, tal noção é volta e meia acionada pelos discursos desejosos de retorno a “passados gloriosos” e tempos onde tudo parecia sob ordem e orientado a valores pretensamente comuns. Sociologicamente falando, as condições de existência extensiva de uma “comum unidade” estariam mais vinculadas a arranjos societais menos complexos no que diz respeito à divisão social do trabalho, às aspirações e visões de mundo e às possibilidades efetivas de se perceber (e existir) individualmente. Nestes arranjos, a própria concepção de indivíduo estaria abafada. Nos cérebros e corações de cada vivente de uma comunidade estariam essencialmente presentes os valores comuns, produzindo uma consciência coletiva baseada em uma unidade de aspirações, desejos e limitações para ser, parecer, ser aceito e atuar no mundo. Se pensarmos os movimentos mais recentes do colégio em direção à diversidade, sejam por mobilização interna, como o projeto João de Todas as Cores, sejam por força de lei como a estruturação de ações de atenção às neurodivergências, ou os esforços de atração e manutenção de um ambiente sadio para professores e funcionários – e estudantes – com diferentes orientações sexuais, o fato é que nos abrimos para o diferente. Por um lado, viemos fazendo como coletivo, já há alguns anos, o movimento ético de nos expormos às diferenças e de promover suas visibilidades. E isso é ótimo: mais um passo corajoso, ainda que inconcluso, do João XXIII no curso de sua existência. Por outro lado, os caminhos para dirimir os eventuais atritos, fricções, demandas particulares que também acompanham arranjos coletivos mais complexos, muito dificilmente se efetivam pelas práticas atreladas aos limites do que sociologicamente expus como “comunitário”. Estas diferenças e suas efervescências já não cabem nas expectativas de uma comum unidade de valores mais ou menos fixos.
Diversidade passa a ser uma noção que melhor dá conta dessa realidade, e abraçá-la é inevitável.
O problema então passa a ser como andar juntos em uma instituição escolar incorporando verdadeiramente todas essas diferenças? Como pensar e agir coletivamente em direções minimamente comuns para promover aprendizados? Como mediar os inevitáveis conflitos provenientes das diversas visões de mundo – e em diferentes estágios da vida – daqueles que se encontram e precisam conviver presencialmente quase todos os dias da semana, por 6, 8 ou mais horas ao longo de mais de 200 dias por ano?
Se as vivências escolares numa instituição com cerca de mil pessoas promovem proximidades, como não se iludir com a promessa da comunidade imaginada, ou seja, com a esperança de que todos – responsáveis, professores, funcionários, estudantes – comunguem dos mesmos valores e visões de mundo em em momento da existência em que o diverso é a marca? A resposta passa por uma ideia não menos batida e especialmente em crise: democracia.
Um espaço escolar que não só é atravessado pela diversidade, mas faz a opção de promovê-la ativamente precisa responsabilizar-se também pela propagação da forma ética de dar conta dos conflitos decorrentes do convívio com as diferenças. E para isto, ser comunitária não basta. É preciso ser democrática. Neste sentido, enquanto espaço de ensino e aprendizagem, tentar ensinar democracia como conceito é insuficiente. É preciso vivê-la. Radicalizar a democracia – enquanto regime de vivência, não só de mando e obediência – exige implicar quem nela atua. Jovens e adultos. Exige ensinar a trazer as diferenças e demandas para a arena coletiva e promover efetivamente espaços institucionais onde o diálogo, a opção pela alteridade e a construção de forma conjunta possam ocorrer em todos os níveis das relações. A herança de Zilah Totta e dos rebeldes que a seguiram em 1964 é grandiosa: erguer uma instituição escolar por oposição aos rumos que tomava a educação em um Estado ditatorial foi de uma coragem ímpar. O desafio de décadas atrás pode-se dizer que foi vencido. O ciclo seguinte, entretanto, já começou e os desafios são outros 60. As herdeiras e os herdeiros daquele feito tem uma tarefa não menos difícil: transformar o projeto consolidado de uma escola comunitária em uma escola democrática. Efetivar a democracia, radicalizá-la, promover o protagonismo de todas as pessoas envolvidas, implicá-las nas decisões sobre os caminhos coletivos tendo sempre por base o respeito e a garantia à existência de si e dos outros é um desafio do nosso tempo. Para ser justo, reinventar a democracia não é um desafio só do Colégio João XXIII. Mas uma vez pioneiro, sempre pioneiro.
*Conselho Editorial
Pai no Colégio João XXIII. Canhoto. Cientista Social com Mestrado e Doutorado em Sociologia. Professor do Departamento de Sociologia e Vice-Diretor do Instituto de Filosofia e Ciências Humanas da UFRGS.